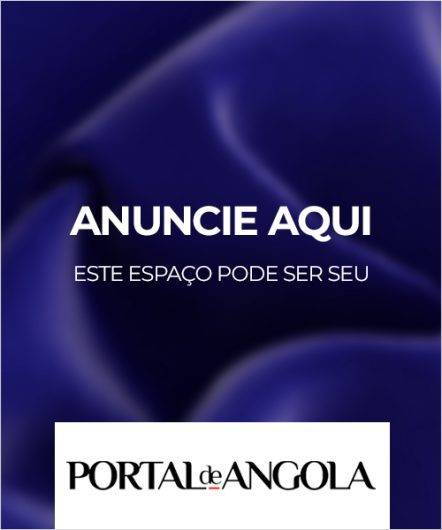Roberto de Almeida vem fixar residência em Luanda quando chegou a hora de frequentar a 1ª classe, decorria então o ano de 1948. Contudo, não romantizava a sua estadia definitiva na grande cidade, dado que as várias vezes que tinha vindo com a mãe já lhe tinham saciado a ânsia de ali estar.
“Não foi um grande impacto. Vi a diferença por ser uma comunidade mais numerosa e movimentada, que oferecia uma maior diversidade de pessoas das mais várias profissões e origens”, explica. Mas, aos poucos, foi encarnando a aventura de morar na capital.
Roberto Victor de Almeida nasceu precisamente no dia 5 de Fevereiro de 1941, na comuna de Caxicane, em Icolo e Bengo. Por mais de meio século se viu como nato do espaço que ate então vinha representando a cidade do jacaré bangão (Bengo).
Porém, foi em 2011, com as reformas administrativas impostas na cidade capital, que muitos daquele quinhão de terra viram-se jeitosamente “convidados” a ser de Luanda. Assim, o seu Icolo e Bengo serviu para insuflar mais ainda a musculatura de Luanda.
Volvidos quase dez anos dessa reforma, Roberto de Almeida é destas pessoas a quem a pergunta de “já se sentir luandizado ou não” faz todo o sentido. A resposta vem sempre antecedida de um sorriso. Afinal, o conceito “luandizado” implica toda a idiossincrasia do deslumbramento que esta cidade provoca.
Roberto de Almeida, com rigor, faz um recuo cirúrgico, para melhor entendê-lo na performance da toponímia colonial a pós-colonial.
“Em 1941, Icolo e Bengo não existia como espaço da província do Bengo. A província era Angola. E Icolo e Bengo, salvo erro, era um conselho”, abria assim a conversa, cujo motivo era descortinar a sua relação com a cidade de Luanda. Desliga-se de Icolo e Bengo ainda antes de completar cinco anos. Pelo facto do seu pai ser pastor e professor da igreja metodista, era frequentemente transferido. Recorda que o pai movia-se dentro das necessidades de evangelização da igreja, que obrigava a mudanças periodicamente. Do seu Caxicane de infância muito pouco tem a recordar. “Sai de lá garoto, ainda infantil”, recorda.
O seu pai seria transferido para a Barra do Dande, numa localidade que se chamava Musseque Kabele, que distava mais ou menos seis quilómetros da vila sede. As suas primeiras grandes recordações da infância são deste Musseque Kabele. Aliás, como bom filho de professores, Roberto aprendeu a ler e a escrever já no Musseque Kabele, na escolinha da igreja dirigida pelo pai. Foi exactamente nesse período que começa o contacto com a cidade de Luanda, para onde vinha, na companhia da mãe, cumprir viagens esporádicas, motivadas por questões de saúde ou outra necessidade doméstica.
Definitivamente, vem fixar residência em Luanda quando chegou a hora de frequentar a 1ª classe, decorria então o ano de 1948. Contudo, Roberto não romantizava a sua estadia definitiva na grande cidade, dado que as várias vezes que tinha vindo com a mãe já lhe tinham saciado a ânsia de ali estar.
“Não foi um grande impacto. Vi a diferença por ser uma comunidade mais numerosa e movimentada, que oferecia uma maior diversidade de pessoas das mais diversas profissões e origens”, explica. Contudo, aos poucos foi encarnando essa aventura que é morar na capital.
Ao começar a primeira classe de instrução primária, Roberto de Almeida já vinha bem preparado da escola do Musseque Kabele. Já lia e escrevia perfeitamente. Naturalmente, ingressa na conhecida Escola da Missão, espaço hoje tomado pela Igreja e a Universidade Metodista, à baixa da cidade. E por lá estuda da primeira à quarta classe.
“Era uma escola de madeira, que ficava mais ou menos defronte ao São José do Cluny e atrás do Hotel Trópico. O espaço da escola era vasto e se estendia até perto do Bungo, incluído mesmo parte do que é hoje a praça do Kinaxixi. Era a nossa escola”, assim recorda um dos “meninos bonitos” da honrosa escola.
Marçal, ponto de partida
Quando chega a Luanda vai fixar residência no bairro Marçal, onde o pai chega a comprar uma casa de pau-a-pique. “Era uma casa modesta. Tinha um corredor, uma sala de entrada e um quarto. Todos nós, meus irmãos e meus pais, vivíamos neste espaço.
E sobrava um quarto a seguir ao corredor, que funcionava como sala de entrada, que nós alugávamos”, recorda. Naquele Marçal da década de1940, a casa ficava junto ao campo do Moreira, por detrás da conhecida loja da Dona Rosa, entre essa rua e a do Barros Caiate. Com os bairros a nascerem, as referências daquela época eram as lojas.
Ficou no Marçal de 1948 a 1955. Foi em 1955 que, na companhia da irmã mais velha, Deolinda Rodrigues, se muda para o Bairro Operário. “Porque a nossa mãe, com quem vivíamos no Marçal, teve necessidade de ir morar definitivamente com o meu pai, que, na altura, estava em Ndalatando, a cumprir missão como pastor”.
Foi a última missão do pai, na qualidade de pastor. Depois, assumiria a função de agente sanitário, equivalente a primeiro auxiliar de enfermagem. Nessa nova profissão, foi colocado em Camabatela. Em todas essas comissões de serviço, Roberto e os irmãos iam sempre passar as férias onde quer que o pai estivesse.
A mãe também era professora – chegou a dar aulas durante algum tempo onde está actualmente a igreja de Bethel, na Avenidade Brasil, arredores da cidadela. Muito antes de haver essa igreja grande, conta que era espaço de uma classe metodista, conhecida por “Classe do Quilómetro 7”.
O nome da área estava associado ao comboio que vinha do Bungo, passava pela Cidade Alta, junto aos Cinemas Alfas, seguia para a zona onde é hoje a Maternidade Lucrécia Paim e o Hospital Militar. Precisa que, à época, ali havia um hospital chamado Hospital da Caridade e a Maternidade já existia, mas com uma construção menor.
O comboio passava bem defronte à Maternidade e seguia até àquela zona da escola industrial (Makarenko) e Cine Atlântico. Essa paragem era conhecida por Quilómetro 5. O comboio continuava até chegar ao Quilómetro 7.
“Essa distância das paragens de comboio marcava o nome dos bairros. A gente dizia ‘eu moro no Cinco’, outros moravam no Sete e por ai fora”, recorda. Tanto para a Escola da Missão como para o liceu, fez o trajecto a pé. Ingressa no liceu em 1952, ainda a morar no Marçal.
Na companhia de outros meninos, seguiam o trajecto a pé, naquele areal que havia no bairro. O asfalto começava muito mais adiante. Entretanto, a partir de certa altura, aparece no bairro o comerciante António Moreira, que baptiza o campo de futebol e a lagoa, em consequência da proximidade da sua loja.
“O campo ficava precisamente atrás da loja do Moreira e várias equipas lá jogavam. Por exemplo, Van-Dúnem “Loy”, Asdrúbal, Vasconcelos, Francisco Romão e o ex-presidente, José Eduardo dos Santos, jogavam à bola neste campo”, conta. Roberto lembra que passaram naquele campo grandes craques, que chegaram a seguir mesmo a carreira futebolística.
Dentre estes, o destaque recai para um grande guarda-redes de nome Charico. “Era um guarda- redes que fazia cada voo, que a gente dizia que ele era um pouco maluco. Era coisa de outro mundo. Grande guarda-redes”, pontua.
Este “imortalizado” Moreira tinha um filho que também estudava no Liceu. Ao levar o filho à escola, dava ‘boleia’ aos colegas do filho que moravam ali no Marçal. “Dava-nos boleia a todos e eu era um dos beneficiados”, reconhece.
Pelo menos para ir, apanhavam muita ‘boleia’ da carrinha do velho Moreira, um dos mais conhecidos comerciantes no Marçal. De se esperar naquela época, o ambiente do liceu tinha as suas divisões.
Porém, não eram apenas as de motivações raciais. Como em qualquer escola, de qualquer tempo, reinava um certo desdém dos estudantes mais avançados sobre os estudantes mais novos.
“Era mesmo de um certo elitismo entre estudantes mais avançados em relação aos meninos do terceiro ano. Quem estivesse no quinto ano ou no sétimo nem olhava para ti, que estavas ainda no primeiro. Era uma divisão estratificada e nós, os mais miúdos, tanto brancos ou negros, ficávamos apenas a assistir”, recorda.
Fez amigos no Liceu. Alguns já travava amizade desde a Escola da Missão, mas outros conhece-os ali mesmo, nesse primeiro ano de Liceu. Lembra nomes como de Isaque Moisés Sebastião e Elísio de Figueiredo, ambos já amigos desde a Escola da Missão. Por lá travou amizades com Inocêncio Maurício, José Nunes Sobrinho, Onofre dos Santos, António Pedro Gomes e outros.
“É preciso fazer um grande exercício de memória. Éramos 42 alunos e eu era o número 38, dados por ordem alfabética, e o Onofre dos Santos era o 37, se não me engano”, recorda.
ONTEM E HOJE
Luandas muito diferentes
Na sua breve comparação da cidade de ontem e de hoje, Roberto de Almeida conclui que Luanda dos anos 40/47 era completamente diferente, referindo-se particularmente ao musseque onde vivia, neste caso, o Marçal.
“O Marçal daquele tempo não tinha luz eléctrica, nem água, tampouco recolha de lixo. Nós fazíamos à frente de cada casa aquilo que nós chamávamos de “dixita”, onde cada família deitava o lixo. Depois, tinha que cavar um buraco e queimar ou enterrar. A “dixita” era de cada casa ou grupo próximo. A cidade era limpa, mesmo sem carros de lixo. Não havia sujidade. As grandes dificuldades eram mesmo a falta de água e luz”, observa.
A seu ver, os musseques também mudaram muito, apesar das enormes dificuldades que ainda existem. Nota que a urbanização melhorou um pouco a arquitectura da cidade, visto que, no musseque daquele tempo, não havia ruas definidas como tal, asfaltadas e com passeios.
“Tudo era areia, barro, sem passeios. Hoje, algumas ruas do musseque estão alinhadas, com passeios, mesmo que o asfalto esteja a desaparecer. É uma Luanda diferente”, conclui.
Mais do que a arquitectura, reconhece que também mudou muito a espiritualidade das pessoas que moram no musseque, defendendo que, naquele tempo, havia mais irmandade entre os habitantes do musseque, principalmente em situações de desastres ou rusgas.
Quanto aos pequenos melhoramentos que os musseques beneficiaram, a partir de em 1961, explica que foram motivados pela necessidade de repressão do exército colonial, para melhor actuação.
“A colocação de holofotes, que davam uma luz muito forte à noite, era para esquadrinhar os musseques e ver onde se escondem os ‘terroristas’ e aqueles suspeitos. Foi a partir dai que começaram também a tomar medidas para alinhar algumas ruas e facilitar a captura dos perseguidos.
Porque antes eram becos e muitos deles sem saídas. Não fizeram para satisfazer os moradores do musseque, mas para a necessidade da repressão. Isso ditava alguns dos melhoramentos que foram feitos no musseque”, explica.
No que toca à água, era prática da época os comerciantes abastecerem os clientes vizinhos. No caso da família de Roberto de Almeida, eram as lojas Tico-Tico e Zulu as mais próximas de casa.
Tendo em conta que a família de Roberto era cliente antiga da loja, era o comerciante, que se chamava Evaristo Teixeira, proprietário da “Casa Tico-Tico Evaristo Teixeira e Irmãos”, quem lhes fornecia o chamado “precioso líquido”.
“Para termos água, fazíamos as compras lá e, a partir de um certo montante, davam um vale de água. Era um papelinho com a rubrica dele, com a data e qualquer coisa a mais”.
Era com esse vale que tinham direito ao abastecimento de água. Para o transporte, as pessoas tinham um barril ou latas, levadas à cabeça. Em casa de Roberto, havia um barril, daqueles onde vinha o vinho português. Esses barris, quando esvaziados, tinham grande utilidade, tanto para guardar água ou cortar ao meio e fazer celhas, para a lavagem da roupa.
“Normalmente, antes de ir para o liceu, eu puxava já um barril de água para a nossa casa. E fazia isso dia sim, dia não. Era o meu dever”, recorda. Para a diversão, muitas vezes Roberto e amigos tinham que ir até ao bairro São Paulo, no imenso espaço que circundava a igreja de São Paulo, o mercado do Chamavo e a padaria Pameli.
Tem memória desse mercado do Chamovo, feito de armadura de ferro, que viera a desabar nos anos 1954/55, durante uma forte chuva. Muitas quitandeiras e gente ali às compras morreram neste dia.
No bairro, jogavam à bola, barra do lenço e outras brincadeiras daquela idade. Por naquele tempo ser costume de quase todas as famílias jantar cedo, por volta das 7 horas da noite, aos meninos ainda sobrava tempo para mais uma ou outra brincadeira antes de se recolherem.
“Então, depois do jantar, nós nos chamávamos de casa em casa, numa canção em kimbundu que era popular. E cantávamos:”kafunji o bika kya, zenu kya mu tonoka, iboooooo!”, recorda. Esse era o chamado, que, em português, quer dizer “o funje já acabou, venham já brincar. E assim, sob a força do chamado, os meninos voltavam a povoar a rua.
Durante o dia, não faltava um bom trumunu no areal, com bolas feitas de meias. Um outro divertimento que lhe era prazenteiro era ir à praia. Ganhou este hábito quando saiu do Marçal e foi para o Bairro Operário, talvez pela proximidade com o mar da Boavista a seduzi-lo diariamente. Roberto e amigos desciam as barrocas, ali, onde é hoje o Miramar, até chegarem à Praia do Ferrovia, ao lado da Casa da Reclusão, então prisão colonial.
“Era a nossa praia. O espaço era imenso, sem esses empreendimentos de hoje. Dávamos lá os nossos mergulhos. Brincávamos ali”, recorda. Essa vivência em Luanda nutriu o escritor, que a radiografou em “Estórias dos Musseques”, sob pseudónimo de Jofre Rocha.
“Nem tudo ali é ficção. Grande parte desse livro é mesmo a realidade que era vivida nos musseques de Luanda”, esclarece.
Roberto de Almeida hoje passeia pouco por Luanda. Fá-lo mais pela necessidade de visitar um ou outro parente. “Luanda é diferente e os meus parentes também já não estão nesses musseques onde eu vivi. Agora, estão nos KK, Camama e outros. A cidade é outra”, justifica.
Nem a Mutamba, onde chegou a dirigir a Revista Novembro, parece-lhe mais a mesma. “Sim, a Mutamba era um centro, não só de pessoas que esperavam a transportação para os seus pontos, mas também pouco a pouco foi se tornando num ponto de convívio.
Havia pessoas que saiam das suas casas para se encontrarem na Mutamba. Havia regularidade dos autocarros e era ali onde as pessoas se encontravam”, recorda.
Figura de vulto da política e sociedade angolana, Roberto de Almeida veio a desempenhar importantes cargos nos últimos 30 anos. Chefiou ministérios, presidiu à Assembleia Nacional e chegou a ser segunda figura do MPLA.
Neste momento, preside a Fundação Sagrada Esperança. A completar 80 anos na próxima semana, Roberto de Almeida tem a sua vida e momentos entranhados nesta cidade de Luanda, que exalta na memória ou que consagra na sua veia de escritor.
INFÂNCIA
Uma foto viral na Internet
Foi esta foto, que despertou curiosidades, que nos levou a bater à porta de Roberto de Almeida e tentar entender o seu movimento pela cidade de Luanda. Reconheceu logo que a foto foi tirada 1957/58, na Ilha de Luanda. Recorda que os jovens da Igreja Metodista estavam organizados em grupos, definidos por idade. Começava pelo dos adolescentes menores de 20 anos, que era chamado “Grupo X”.
Depois, seguia o grupo Esquadrão da Cruz, que compreendia uma faixa etária superior. Por fim, vinha o grupo dos mais velhos, denominado Estandarte de Cristo. Cada grupo tinha a sua agenda de actividades, entre visitas, passeios e excursões.
A foto foi tirada durante uma excursão à Ilha de Luanda. Eram frequentes as idas à Ilha de Luanda, por, naquela altura, haver aqui missionários americanos. “E esses missionários, ou a própria igreja, não sei bem ao certo, compraram uma casa de madeira na ilha de Luanda.
Ficava ali onde está hoje o Tamariz, no outro lado da estrada”, aponta. É nesse ponto da Ilha de Luanda onde se faziam excursões. Num desses dias de mergulho, foi tirada a foto, por um missionário americano, e todos ali presentes eram do Grupo X.
“Temos ao alto o José Mendes de Carvalho (Hoji-Ya-Henda), depois, estou eu, e quem está ao meu lado, de cabeça baixa, era um jovem que se chamava Nicolau de Almeida (chegou a trabalhar no Protocolo de Estado, durante a presidência de Eduardo dos Santos).
Em baixo, está o José Matoso, que chegou a director da Rádio Nacional de Angola, Isaque Moisés Sebastião, morador do Bairro Operário e meu colega do tempo do Liceu, e, por fim, o músico António Pascoal Fortunato ‘Tonito”.
Rusgas
Na Luanda colonial da sua mocidade, as rusgas apavoravam as pessoas do musseque. Mesmo para ir ao liceu, o medo de ser rusgado era real. Era preciso ter sempre o cartão de estudante, para uma movimentação tranquila. A polícia colonial considerava-os, sobretudo, porque eram ainda miúdos.
O mesmo não acontecia com os mais velhos, que também podiam ser presos, se não tivessem o imposto de indígena pago. Roberto nunca chegou a ser preso no Marçal, durante essas rusgas. Viria a ser preso já depois de 1961, pela Pide.
Em 1959, estava Roberto e os irmãos Deolinda e Adão (pai de Adão de Almeida, o actual Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República) no Bairro Operário. Sai do Bairro Operário, quando a sua irmã Deolinda (Rodrigues) vai para Portugal, isto no dia 13 de Fevereiro de 1959.
Roberto vai morar atrás da então LAL, Luz e Água de Luanda, hoje agência da EPAL, por detrás do edifício do Ministério da Energia e Águas. “A minha irmã mais velha, Engrácia, morava numa casa ali ao pé e já era casada. Eu fui morar em casa desta minha irmã, ainda eu a estudar no Liceu”, recorda.
Quando a mãe voltou a Luanda novamente, chegam a morar numa casa arrendada, na estrada da Brigada. Depois, vão morar mais para dentro do Rangel, na Rua da Vaidade, perto da conhecida Dona Malha. O pai chegou a comprar uma casa de madeira.
Garante que a casa ainda está lá. Dali ainda volta a morar com a irmã Engrácia, desta vez no Quilómetro 7, arredores da Cidadela. Esta casa era controlada pela irmã de Desidério Costa, de nome Luísa, a quem pagavam as rendas.
“Eles também moravam ali ao pé de onde é hoje a Igreja Bethel. Depois, havia a casa do pai do Ismael Martins e logo a seguir a casa do pai do Desidério, o senhor Fernando Pascoal da Costa.
Nós morávamos por detrás, numa casa de madeira. Quando rebenta o 4 de Fevereiro, eu estava a morar ali na casa do Quilómetro 7. E ouvíamos perfeitamente os tiros à noite”, conta. Tirando o período de férias, quando ia visitar o pai, reconhece que passou toda a sua infância e juventude aqui em Luanda.
UMA VIDA AGITADA
Prisão em Lisboa e regresso a Luanda
Naquele tempo de 1961, muitos jovens ansiavam “bazar”, sair de Angola. A razão maior era escapar do serviço militar obrigatório, dado que a guerra independentista já tinha rebentado e muitos jovens angolanos não queriam servir nas forças coloniais portuguesas.
“Eu não pegaria numa arma para defender Portugal, contra os meus irmãos, que sabia que estavam a lutar para libertar Angola. Mas os que não puderam, foram. De certa forma, foi bom, porque muitos deles usaram o conhecimento obtido na instrução militar portuguesa ao se juntarem às forças nacionalistas”, justifica.
Desde sempre, a sua primeira opção foi não entrar no exército português, custasse o que custasse, porque não se concebia pegar numa arma para defender Portugal. É assim que, aos 20 anos, engendra um plano de fuga. Roberto de Almeida, João Filipe Martins (chegou a ministro da Informação e reitor da Universidade Agostinho Neto) e José Agostinho Neto, irmão do presidente Agostinho Neto, embarcam no avião da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), que fazia os voos Luanda-Lisboa, com escala na Nigéria, em Nkanu.
A ideia era tentar a fuga a partir de Nkanu. A Nigéria acabava de se proclamar independente e vivia ainda um clima de frágil autonomia, visto que os colonos ingleses ainda estavam por lá.
Essa fuga foi planificada com a ajuda de um missionário americano de nome Ralph Dotch, que vinha a Angola muitas vezes. Esse missionário estava ao corrente da data em que os três estudantes partiriam de Luanda. Sendo americano, Ralph não poderia interferir directamente no assunto.
É assim que chega a encarregar a um estudante angolano em Paris a tarefa de avisar atempadamente as autoridades nigerianas sobre este grupo de três estudantes angolanos que passaria por Nkanu e que precisaria de acolhimento. Simplesmente, esse estudante angolano esqueceu.
Os rapazes ficaram sem saber o que fazer. Como naquele tempo os aviões tinham sempre gente da PIDE a acompanhar todo o voo, foram identificados ao se dirigirem para a sala de acolhimento.
Desprovidos de protecção, começava ali a detenção. São formalmente presos em Portugal, de Junho a Outubro de 1961, na cadeia de Aljube, e logo recambiados directamente para a cadeia de São Paulo, em Luanda, sempre sob prisão.
No momento em que engendrara a fuga, já tinha o sétimo ano do curso de Letras, no liceu. Porém, faltava-lhe concluir duas cadeiras, exactamente Latim e Filosofia. Interessava-lhe seguir Letras, porque sonhava cursar direito. Conclui estas duas cadeiras, já na prisão de São Paulo.
“Estudei sozinho na cadeia e pedi autorização à PIDE para deixar-me ir fazer os exames. E fui até ao liceu, acompanhado do guarda da prisão. Tinha dispensado Alemão e História, na prova oral.
Não tive nota suficiente em Latim e Filosofia, disciplinas que acabou por estudar sozinho, na prisão, em 1962”, conta. Nessa prisão, que começou em 1961, por lá fica até 1963. Os três são soltos a 28 de Fevereiro de 1963.
Já depois da independência, o estudante angolano, a quem o missionário americano confiou a responsabilidade de avisar às autoridades nigerianas, esteve com Roberto de Almeida, a quem desabafou em conversa descontraída: “vocês foram presos porque eu me esqueci de avisar os nigerianos”, desabafou.
“Já fui à cadeia e já saí. Foi uma série de azares. Agora estás a me dizer que esqueceste. Paciência, pronto, acabou!”, respondeu Roberto, sem nesga de mágoa. Depois é novamente preso, em Junho de 1963. Provou a liberdade por pouco mais de três meses. A PIDE considerou-o subversivo, por ter feito circular panfletos que alimentavam a luta pela independência.
Nesse período, estava a morar no Rangel, na Rua da Vaidade. Em casa, vivia-se uma situação de infortúnio. Falecera, em França, um dos seus irmãos. Fora a Paris para estudar. Antes, esteve em Lisboa, igualmente, a estudar, e é um dos elementos da conhecida “fuga dos 100 para Paris”.
Depois de sair da prisão, Roberto consegue trabalho no Laboratório de Engenharia de Angola, situado no Cassenda. Consegue essa vaga de emprego graças a um professor do liceu, que leccionava Filosofia, de nome António Barata Tavares. Esse professor, depois de abandonar o liceu, integra os quadros do Laboratório, leccionando a disciplina de História.
Foi nesse clima laboral que começam as confusões, por causa da distribuição de panfletos e de outras actividades consideradas subversivas. Hermínio Escórcio, Aristófanes Cabral, Manuel João Afonso Neto e outros estavam envolvidos. Eram muitos, entre eles vários funcionários do Laboratório.
Roberto não vai no grosso de detidos, por não ter ido trabalhar nesse dia, por causa do óbito em casa. Para não piorar o baixo moral da família enlutada, pela morte do irmão, e por saber que, ao esperar que a PIDE o fosse prender em casa, revista-la-ia toda e mexeria em documentos e papéis seus, que não quis que fossem encontrados, arrumou a sua pastinha e foi ele ter com a PIDE. Acompanhou-o o cunhado, marido da irmã, Engrácia.
Prisão em Luanda
Seriam novamente cinco anos de prisão. Mas, desta vez, com direito a julgamento. Com ele, estiveram Hermínio Escórcio, Couto Cabral, Mário Torres, Lopo do Nascimento e outros. Chegam a ser julgados no tribunal territorial apenas em Junho de 1965 e assim enviados para a Comarca de Luanda, para quem vai a Cacuaco. Sai em Junho de 1968.
Encontra os pais ainda a morar na Rua da Vaidade. Porém, passados apenas três meses de liberdade, volta a viver um revés que lhe marcaria para sempre: os seus pais são presos pela PIDE. “Foi o que mais me derrubou”. As lágrimas venceram o nosso interlocutor.
Foi ainda com as lágrimas a molhar o seu rosto que retomou a conversa, dizendo que, na Igreja Metodista, havia uma organização das senhoras, que se chamava “Sociedade das Senhoras da Igreja metodista”. Essa sociedade das senhoras quotizava para visitar doentes ou irmãs da igreja que tivessem óbito ou carecessem de caridade.
Essa organização exemplar e filantrópica das senhoras não foi bem vista pela PIDE, que chegou a acusar que o dinheiro amealhado seria para ser enviados aos “terroristas”. Prenderam várias senhoras, entre elas a mãe de Luís Neto Kyambata, de Elísio de Figueiredo, de Ismael Martins e a de Roberto de Almeida, que chega a falecer em Janeiro de 1975, em consequência desta prisão. “Foram tempos muito difíceis”, recorda Roberto, com as lágrimas a caírem-lhe livremente rosto abaixo.
Nessa época, Roberto de Almeida já era casado. Três dias depois da morte da mãe, a esposa dá à luz a uma menina, de nome Djamila de Almeida, hoje deputada à Assembleia Nacional, pela Bancada Parlamentar do MPLA.
Casara em 1970, aqui em Luanda. O casal, inicialmente, conseguiu arrendar um anexo na Vila Alice, no antigo largo Cesário Verde. Foi a sua primeira, depois de sair da casa dos pais. Porém, não ficou por lá muito tempo, visto que a moradia estava no trajecto do tiroteio entre a FNLA, na Avenida Brasil, e o MPLA, na Avenida da Liberdade. “No meu tecto, caíram estilhaços, balas”, explica.
Usando de cautela, tomou a decisão de sair dali e arrendar uma habitação noutro ponto de Luanda. O Cassenda foi o destino escolhido.
Já em período de Independência, Roberto de Almeida muda-se para o Maculusso, em 1976, onde morou por cerca de vinte anos. Foi neste Maculusso onde encontrou sossego. “A maior parte dos meus filhos nasceu no Maculusso e por lá travei amizades com a vizinhança”, reconhece.