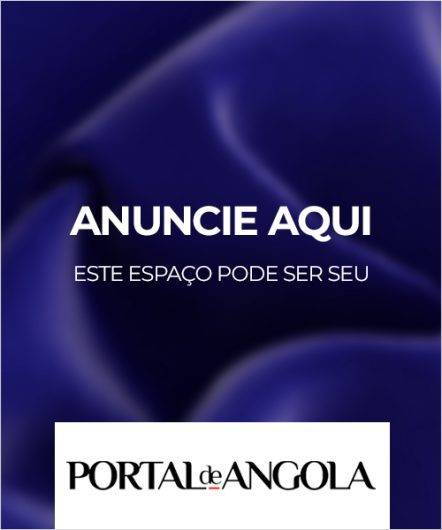Bastaram duas perguntas para assumir que não trabalha para agradar a todos, mas sim para desagradar a muita gente. Diz que as conquistas lhe saíram “do pêlo” e fizeram com que estivesse muitas vezes longe da família. Descreve-se como uma workaholic, uma ativista pelos direitos humanos e pela justiça social, com alma de ONG. Tem muito a dizer sobre as eleições presidenciais, mas pouco fala sobre a sua possível candidatura. E, quando é confrontada com os ataques que vêm de dentro do seu partido, atira: “So what? Também lhes faço muitas críticas”.
Em 2004, um amigo endereçou uma carta a Ana Gomes, que tornou pública num blogue. Vicente Jorge Silva escreveu: “Criticam-te por seres excessiva nos teus estados de alma, por dizeres o que pensas sem cuidares de introduzir entre o pensamento e a palavra uma medida consensual de correção política (…) Que sejas fiel a ti mesma: incoveniente, inconformada, rebelde.”
Perguntei se se revia nestas palavras de quem a conhece bem. Riu-se e respondeu: “Revejo absolutamente, oiço o conselho”.
Começou por explicar que, nesse ano, lutou para que o PS tomasse uma posição contra a invasão do Iraque, lembrando que na altura foi muito criticada por pessoas de dentro e de fora do partido. “Não me arrependo porque estava certa. Aquela guerra foi desastrosa, não apenas para o Iraque.”, continuou. Pensa que foi este episódio que levou Vicente Jorge Silva a escrever-lhe estas palavras, como forma de a encorajar a seguir as suas convicções.
Apesar de ter assumido que se revê na descrição, a resposta foi parca e remetida para o passado. Por isso, insistiu-se na pergunta: “Atualmente, ainda se revê nestas palavras?”
Viveu 20 anos em ditadura e, como costuma dizer, quando vê uma reconhece-a. Já nos tempos de liceu procurou juntar-se aos que combatiam o regime por achar que o “colonialismo era o outro lado do fascismo”. Viver o 25 de Abril foi um “privilégio”. Esteve no Largo do Carmo quando a PIDE disparou sobre as pessoas na Rua António Maria Cardoso e em Caxias à espera da libertação dos presos políticos.
Seguiu-se a filiação no MRPP – partido que fazia da luta contra a guerra colonial uma prioridade. Mas pouco tempo durou. Foi uma escola importante e que não renega, embora hoje considere algumas posições do partido condenáveis. Afastou-se logo em janeiro de 1976, por descrença do MRPP em relação ao regime democrático, que a própria defendeu no dia 25 de novembro de 75 aquando da tentiva de um golpe militar.
Licenciou-se em Direito em 1979 e obteve um diploma em Direito Comunitário em 1981. Inicialmente, queria ser advogada, até que começou a interessar-se por tudo o que estivesse relacionado com a ação internacional do país. As viagens com o pai, que era comandante da marinha mercante, trouxeram-lhe a perceção de que a imagem de Portugal era muito má no exterior e queria contribuir para a mudança, “ao promover a nova imagem do novo Portugal democrático”.


Depois da faculdade concorreu para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde trabalhou durante dois anos, antes de ter recebido um convite para ser consultora do então Presidente da República, Ramalho Eanes. Tinha 28 anos quando chegou a Belém. “Tinha um olhar e tinha um relacionamento com toda a Administração Pública, com todo o MNE, com toda a área de relações internacionais, intervindo em visitas de Estado, ajudando a organizar.”
Começou a ser o braço direito do Presidente nas visitas do Estado, que contava com ela para a interpretação. Esteve com a Rainha Isabel II, com o Presidente norte-americano Ronald Reagan e com o francês François Mitterrand.
Ativista desde a adolescência, com um percurso na diplomacia que passou por missões em vários países – Suíça, Japão e Estados Unidos – tem estado no centro de várias polémicas por expôr e denunciar casos de corrupção, lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais.
Debateu-se com as várias leaks (fugas de informação), desde o Lux Leaks até ao Luanda Leaks. Defendeu denunciantes – como é o caso de Rui Pinto, fundador do Football Leaks – ao mesmo tempo que fazia denúncias à Procuradoria-Geral da República e ao Parlamento Europeu.
No dia desta entrevista, chegou até a confessar que passou a manhã a escrever um e-mail à PGR “sobre um crime gravíssimo de violação dos direitos humanos”, uma tarefa que faz com gosto.
Desafiámo-la a escolher a designação que melhor lhe assenta, se a de ativista ou se a de política. “As duas”, respondeu de imediato, esclarecendo que “um político que não é ativista, não é um bom político”.
Lembra, contudo, que pratica o ativismo dentro das doutrinas impostas pelas funções que desempenha. E agora, que é simplesmente militante base do Partido Socialista e que não tem uma responsabilidade diplomática ou de grande intervenção política, aposta num discurso (ainda) mais livre.
Ultimamente, houve quem a chamasse de populista, radicalista e até de irmã siamesa de André Ventura e gémea de Donald Trump. Confrontada com estas comparações, respondeu com repulsa:

A 30 de janeiro de 1999, chegou a Jacarta, na Indonésia, naquela que viria a sua maior missão como diplomata: conseguir restabelecer as relações diplomáticas com o país e resolver o processo de Timor, que esteve sob domínio indonésio durante 24 anos. Foram anos de execuções – estima-se que tenham morrido 100 mil timorenses ao longo do período de ocupação – e de tortura e fome para o povo de Timor-Leste.
A invasão da ex-colónia portuguesa deu-se no final do ano de 75 sob o pretexto de anti-colonialismo, enquanto Portugal ainda estava a tentar implementar um regime democrático.
O sufrágio do povo timorense era um assunto que interessava a Portugal e, em particular, a Ana Gomes que já o acompanhava de perto desde a entrada para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi a escolhida pelo ministro Jaime Gama para liderar o processo de independência de Timor-Leste e a retoma das relações diplomáticas com a Indonésia, a partir da embaixada da Holanda em Jacarta.
Tinha 45 anos quando chegou ao território indonésio para participar num jogo diplomático que acabou por ser bem sucedido e por lhe valer o prémio de personalidade do ano, atribuído pela Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal. Durante o ano de 1999, manteve conversas com Habibie, o então Presidente da Indonésia, e com o ministro Ali Alatas, sempre com o processo de Timor-Leste em cima da mesa.
Trabalhou em Jacarta para que Portugal conseguisse o acordo com a Indonésia assinado a 5 de maio em Nova Iorque, com vista à realização de um referendo para determinar o futuro do território, que veio a realizar-se a 30 de agosto. Na consulta pública, a esmagadora maioria votou a favor da independência de Timor-Leste, levando a uma onda de violência pelos militares indonésios que devastou o país.
Só em outubro de 99, o governo indonésio aceitou o resultado do referendo, revogando a legislação que anexava Timor-Leste à Indonésia. A decisão permitiu às Nações Unidas aprovar uma resolução com o objetivo de criar uma administração transitória, que acabou com a independência de Timor-Leste em maio de 2002.

(Foto: D.R.)
Duas décadas passadas, confessa que se sente na obrigação de fazer o que não fez até agora: escrever um livro sobre a sua passagem pela Indonésia e por Timor-Leste. Há muitas histórias por contar, nomeadamente, o famoso episódio dos passaportes, que acabou por ocorrer na sequência do referendo, que deixou muitos timorenses e portugueses na Indonésia em perigo.
Muitas das pessoas não tinham passaporte, o que as impedia de sair do país. Não tinham competência para lhes passar um passaporte português, mas podiam facultar dinheiro para pedirem um indonésio.

Ana Gomes (Foto: D.R.)

STR OLD

Ele e a mulher tinham passaporte, mas os outros membros da família não. A solução foi dotá-los do documento e mandá-los para Macau, onde estiveram algum tempo. Nos dias seguintes, “vieram em catadupas”. Era-lhes dado dinheiro para adquirirem um passaporte legal indonésio, que ao início custava 800 mil rupias – cerca de 80 dólares – e que, dada a urgência com que eram pedidos, passaram a custar três milhões de rupias.
Ana Gomes ressalva que protagonizou esta história sempre com o conhecimento de Lisboa, garantindo que não se arrepende. “Se em algum momento tive dúvidas, rapidamente as afastei”, lembrando a atuação do diplomata português Aristides Sousa Mendes durante a II Guerra Mundial.
Durante este período, a diplomata esteve debaixo dos holofotes e cada passo que dava era seguido por jornalistas que acompanhavam a sua missão. Mas foi depois da Indonésia ter reconhecido o referendo que começou o trabalho “mais periogoso e, ao mesmo tempo, mais compensador”.
Cerca de 250 mil timorenses, obrigados a fugir de Timor ocidental por milícias e militares, estavam na Indonésia em situação de refugiados, o que causava não só preocupação às autoridades portuguesas no país como também à própria Indonésia. Nessa altura, Ana Gomes, com a ajuda de Xanana Gusmão, tentava convencer as comunidades a voltarem para Timor-Leste.
Para além do trabalho de campo, fazia um programa de rádio gravado todos os sábados de manhã no hotel Indonesian com o ex-ministro Ali Alatas, que era conselheiro do Presidente na altura e com o ministro da segurança indonésio que era emitido nas ilhas onde estavam essas comunidades mais vulneráveis. “Foi o trabalho mais arriscado, mais duro”, referindo que, ao fim de dois anos, maior parte dessas comunidades já tinham voltado para Timor.
O trabalho da diplomata foi acompanhado por vários correspondentes da SIC que, em 99, acompanharam a sua missão passo a passo. Com recurso a imagens do passado, criámos um resumo útil para memória futura.

Chegou em 2004 ao Parlamento Europeu, depois de ter sido eleita eurodeputada pelo Partido Socialista, dedicando-se a um trabalho igualmente duro, segundo nos conta a própria. Foram 15 anos de vida, ao longo de três mandatos, em que se empenhou a criar respostas para a crise dos refugiados, para os constantes casos de corrupção, integrando a área de segurança e relações internacionais do parlamento.
Os primeiros anos foram de frustração, pela falta de visibilidade que era dado ao trabalho que era desenvolvido em Bruxelas, quer pela própria, quer por outros eurodeputados portugueses. Admite que ainda hoje não é fácil, porque os recursos dos media portugueses não permitem, segundo considera, uma cobertura completa do que é decidido no Parlamento Europeu.

(Foto: Manuel Almeida)
Ainda durante esse ano tudo viria a mudar, com a crise económica e financeira, que levou à queda do Lehman Brothers. Com as políticas de austeridade a bater à porta dos portugueses, Ana Gomes sentiu a necessidade de intervir mais, de mostrar que esse caminho não seria bom para Portugal e, consequentemente, para a Europa. A partir daí, passou a ter mais espaço nos media com o objetivo de explicar as políticas europeias.
Em 2019, não se recandidatou ao Parlamento Europeu por defender a limitação de mandatos. “Acredito na limitação de mandatos porque acho que ninguém se deve perpetuar nos cargos e, portanto, se acredito nisso e defendo para outros tenho que aplicá-lo a mim própria.”, explicou. A par desta convicção, admite que queria estar mais tempo com a família.
Tem acompanhado o trabalho dos eurodeputados eleitos nas últimas eleições europeias, em particular aqueles que trabalham em áreas que considera mais importantes e a que ela própria está ligada. Destaca o esforço que têm feito ao participar em podcasts, a fazer partilhas nas redes sociais e a entrar em debates, mas volta a afirmar que a cobertura dos media é insuficiente.
Questionada sobre se a cobertura episódica dos media tem impacto na perceção que os portugueses têm sobre a Europa, lembrou que a legislação europeia se aplica a 80% dos países europeus – uma forma de destacar a importância das decisões que vêm do Parlamento Europeu.
Reconhece os seus “dedos em várias peças legislativas”, nomeadamente na 4.ª e 5.ª diretivas contra o branqueamento de capitias e o financiamento do terrorismo, sublinhando que os eurodeputados estudam e falam com vários investigadores para chegarem a determinadas conclusões.
Refere até que, em 2010, foi responsável por um relatório sobre o plano de ação da União Europeia sobre ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares, onde se inseriam pandemias. Parou e frisou: “2010!”.

(Foto: Fred Marvaux)
O plano acabou por ser, segundo refere, “inacreditavelmente enfraquecido pelo Conselho, pelos governos que não queriam ceder poder à comissão”. E agora, em plena pandemia de covid-19, lembra o trabalho que tinha sido desenvolvido com o objetivo de articular uma resposta conjunta face a uma ameaça global.
Ana Gomes considera que o plano, baseado em experiências com pandemias anteriores e em estudos de epidemiologistas, não avançou porque os governos não queriam partilhar informação. E não se demora a apontar o dedo: “Por isso, chegamos a 2020 com uma comissão acabada de chegar e foi o desastre que se viu a princípio, embora agora a comissão já esteja a fazer o seu trabalho”.
No final de maio, a Comissão Europeia propôs um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros, de forma a mitigar os efeitos da pandemia na economia – a chamada “bazuca” europeia contra a crise. Vão ser muitos milhões a chegar aos cofres portugueses, dinheiro esse que, aos olhos de Ana Gomes, deve ser investido em economias sustentáveis e de futuro e não em setores obsoletos.
Pensa, inclusive, que a Europa está em vias de dar o salto federal, apesar de muitos terem medo de pronunciar a “F word”. Para Ana Gomes é urgente que isto aconteça, até porque acha que se a Europa não der esse salto vai morrer aos poucos – iria “progressivamente definhando”.
Isto é, uma Europa soberana, com os mesmo direitos aplicados a todos os países, faria com que as regras concorrenciais fossem leais e terminaria com a “selva fiscal”. Dá o exemplo da Holanda, que diz que desvia cerca de 236 milhões dos impostos portugueses por ano, através das empresas portuguesas que constituem holdings para não pagarem impostos cá e pagarem menos na Holanda.
Portugal tem sido um dos países a enfrentar a Holanda no contexto europeu. Ana Gomes considera que o governo reagiu bem em relação a preconceitos que alguns líderes holandeses exprimiram em relação a Portugal e a outros países do sul. Porém, considera que “não basta devolver-lhes os preconceitos ou epípetos. É preciso tocar onde lhes dói”.
Continuou a criticar a Holanda e todos aqueles que defendem “as tretas neo-liberais de que a área da fiscalidade é demasiado complexa”. “É complexa mas pode ser tornada simples. Deve ser tornada simples”, disse, argumentando que também aí o “nosso parlamento, infelizmente, é muito frouxo no controlo democrático na área da fiscalidade”.
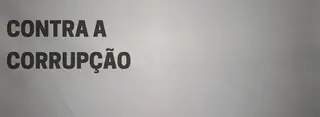
Os que corrompem ou se deixam corromper têm lugar garantido na lista de inimizades de Ana Gomes. Mas também ela, que se insurge perante qualquer suspeita de corrupção, tem uma lista longa de inimigos.
Exaltou-se com processos como a venda dos Estaleiros de Viana do Castelo, a compra de dois submarinos por Paulo Portas, os casos de corrupção no futebol – por exemplo, caso E-toupeira – e com todos os processos cujo nome termina em Leaks. Tem, desde muito cedo, as armas apontadas a Isabel dos Santos, protagonista do Luanda Leaks e, já na altura da compra da Efacec, Ana Gomes questionava o Parlamento Europeu sobre o negócio e denunciava outros tantos.
Inúmeras foram também as vezes que teve de ir a tribunal defender-se contra queixas por difamação, apresentadas pelas figuras a quem ia apontando o dedo e de quem não parece ter medo. E se em Portugal os casos não seguiam de forma célere e independente, não tinha problemas em levá-los até Bruxelas.
Não tem, inclusive, dúvidas de que Portugal continua a ser uma máquina de lavar dinheiro, como já tinha afirmado numa entrevista há vários anos. Explica que o Parlamento Europeu identificou vários países europeus que têm a sua estrutura organizada para isso mesmo, entre eles a Irlanda, Malta, Chipre, Luxemburgo e Holanda, que considera “verdadeiros paraísos fiscais na Europa”.
“Portugal está a caminho, eu espero que não vá por esse caminho”, advertiu, fazendo referência à Zona Franca da Madeira – um centro internacional de negócios que tem sido alvo das críticas de Ana Gomes nas últimas semanas.
Em causa a transferência de 98 migrantes de um cargueiro de bandeira portuguesa para um navio da Marinha Líbia, país considerado inseguro pela Lei Internacional de Resgate de Refugiados no Mar. Ana Gomes acredita que os migrantes foram deixados nas mãos de traficantes.

Ainda estava em Jacarta quando foi desafiada por Ferro Rodrigues para integrar a direção do Partido Socialista, em 2002. Tem o PS como um posto de grande pluralidade e grande vivacidade e, talvez por isso, continue a ser militante apesar das constantes críticas internas.
Foi no dia 10 de fevereiro de 2003 que assumiu funções no Partido Socialista. Admite que gostou imenso de trabalhar na direção de Ferro Rodrigues – integrada também por António Costa – que diz ter tido um trabalho duro na altura.
Porém, reconhece que os tempos mudaram e que “muita água passou sobre as pontes, por baixo das pontes” e que a situação de hoje é diferente. A amizade com Ferro Rodrigues, agora Presidente da Assembleia da República, mantém-se, mas confessa a inimizade e a falta de empatia política e pessoal com outros rostos fortes do partido.
Assume que também ela própria mudou e que hoje sabe mais do que é a vida do partido. Fala da experiência que teve como vereadora da Câmara Municipal de Sintra e como esse trabalho autárquico foi para si revelador e muito enriquecedor. Diz que acabou por cair de paraquedas na direção de Ferro e que lhe faltava experiência partidária no terreno, que qualquer militante tem antes de ascender a órgãos de poder nacional.
Para os deputados socialistas aqui fica o recado: podem sempre contar com a crítica atenta de Ana Gomes. Questionada sobre as críticas vindas dos seus colegas militantes respondeu:
Gostava que houvesse mais discussão política interna, sobre educação política e considera que, em 15 anos no Parlamento Europeu discutiu mais política do que alguma vez discutiu dentro do PS. Julga até que os partidos, e aqui fala a nível geral, deviam ser escolas de formação política.

Muitos já a atiravam para a corrida à Presidência da República quando a própria a rejeitava. Não tinha como meta entrar numa campanha contra Marcelo Rebelo de Sousa – que pondera a recandidatura – e André Ventura, que já se anunciou como candidato.
Mas tudo mudou na semana em que António Costa, numa visita a Autoeuropa, acompanhado pelo atual Presidente da República, decidiu relançar a candidatura de Marcelo, ao afirmar que dali a um ano estariam lá os dois.
De recordar que, nas anteriores eleições presidenciais, o Partido Socialista decidiu não apoiar nenhum dos dois candidatos socialistas, dando liberdade aos militantes para apoiarem o candidato social-democrata.
E se em março, Ana Gomes, dizia perentoriamente que não tinha como objetivo chegar a Belém, em maio, decidiu entrar na lista dos que estão a pensar se avançam ou não. Diz que não atirou o seu nome para a corrida a “quente”, defendendo que teve uma semana para pensar, desde o episódio da Autoeuropa até ao dia em que admitiu ponderar uma candidatura.
O seu nome já estava inscrito em sondagens feitas por vários media desde março e, até agora, a percentagem de intenção de voto tem vindo a subir, roubando pontos a Marcelo e ultrapassando o candidato do Chega. Questionada sobre os bons resultados que tem conseguido, responde que não dá valor a esse tipo de sondagem.
Sabíamos de antemão que não iríamos conseguir romper o discurso de reflexão, depois de ter sido questionada tantas vezes sem nunca apresentar uma resposta mais conclusiva. Contudo, apostámos as fichas numa abordagem diferente.
A deputada já tinha admitido publicamente que o Partido Socialista devia apresentar um candidato que unisse as esquerdas e, por isso, questionámos quem, para além dela – que conta já com o apoio do Livre – podia fazer esse papel.
Respondeu: “Eu de mim não falo. Eu disso é que não falo”, referindo que existem pessoas dentro do próprio partido – não necessariamente militantes – que podiam apresentar-se a “umas eleições tão importantes como são as presidenciais”, sem se comprometer. Ficámos apenas a saber que, para Ana Gomes, o PS tem que ir à “liça”.
Há quem defenda a candidatura de Ana Gomes dentro do Partido Socialista, como Francisco Assis e Daniel Adrião, dirigente na Comissão Política Nacional do partido. Para além deste apoio, a socialista conta já com uma plataforma de apoio à qual não está ligada e para a qual não foi consultada, mas que não ignora.
Não trabalha para agradar a todos, mas inevitavelmente agrada a alguns. O rumo que escolheu seguir marcou não só a História de Portugal, como também a da Indonésia e de Timor-Leste. Foi protagonista de muitos pedaços de história que os mais jovens, provavelmente, não se lembrarão. É ainda hoje protagonista.
Carrega bandeiras importantes para a democracia, como a luta pelos Direitos Humanos e o combate à corrupção. Não gosta de estar em cima do muro e defende que os dirigentes políticos se devem posicionar, mesmo que mais tarde venham dizer que estavam errados.
Empenha a sua caraterística de workaholic a denunciar casos e diz que o faz sempre com base em documentos e informações.
Não é de meias palavras, a não ser em contexto diplomático ou quando se toca no assunto das presidenciais. Aí sim, refugia-se na sua reflexão e escolhe um discurso mais perto do politicamente correto. Tem alma de ONG, de socialista, de combatente – uma alma marcada pela revolução, vincada pela perspetiva europeia e livre o suficiente para ser impetuosa.

Ana Gomes (Foto: Bernardo Gomes)