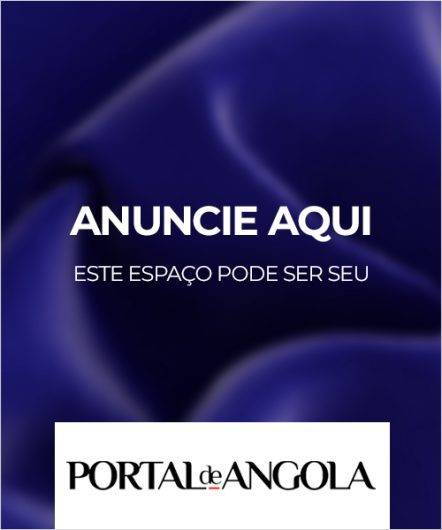Angola assinalou esta terça-feira, 31 de Janeiro de 2023, o 48º aniversário da tomada de posse do seu primeiro governo de transição, cujo fracasso determinou, sobremaneira, o começo da guerra logo após a Independência Nacional.
O governo de transição resultou de um acordo de paz, inicialmente promissor, assinado na vila portuguesa de Alvor, em Algarve, entre Portugal e os três movimentos de libertação nacional, designadamente FNLA, MPLA e UNITA.
Tinha a missão de “preparar o terreno” e lançar os alicerces para o surgimento, em Angola, de um Estado pós-colonial verdadeiramente livre, democrático e equilibrado.
A sua composição já reflectia um ensaio da partilha do poder entre a FNLA de Hólden Roberto, o MPLA de António Agostinho Neto e a UNITA de Jonas Savimbi.
Com 12 ministros e nove secretários de Estado, designados em proporção igual, a transição era dirigida por um Colégio Presidencial de três membros indicados pelos três movimentos de libertação, como primeiros-ministros.
Johnny Eduardo Pinnock, pela FNLA, Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, pelo MPLA, e José de Assunção Alberto Ndele, pela UNITA, foram os integrantes dessa nova entidade dirigente, incumbidos de exercer, de forma rotativa, mensalmente, a função de chefe do governo.
Compromissos assumidos
De uma maneira geral, ao governo de transição competia, entre outras atribuições, administrar o país em substituição parcial e paulatina da autoridade colonial, preparar eleições gerais para a Assembleia Constituinte e cooperar no processo de descolonização até à Independência total.
Incumbia-lhe, pois, assegurar o funcionamento da administração pública, conduzir a política externa, exercer a função legislativa e reorganizar o sistema judiciário.
Dirigir a economia nacional e garantir os direitos e as liberdades individuais e colectivas fazia, igualmente, parte das competências do governo de transição, nos termos do Acordo de Alvor, concluído a 15 de Janeiro de 1975.
Ou seja, com esse acordo, o poder passou a ser exercido conjuntamente pelo governo de transição e pelo Estado português, este último através de um representante seu designado como alto-comissário, mas com o compromisso de transferir, progressivamente, para os órgãos de soberania angolanos, todos os poderes que detinha e exercia em Angola.
Declarou-se ilícito qualquer recurso à força e foram amnistiados todos os “actos patrióticos” praticados no decurso da luta de libertação nacional, mas puníveis pela legislação vigente à data da sua ocorrência.
Até aqui, tudo parecia um “mar de rosas” e bem encaminhado para uma transição pacífica do poder entre o colonizador e o colonizado, rumo ao advento de uma nova nação soberana e reconciliada, com uma liderança saída de eleições livres, justas, democráticas e transparentes.
Entretanto, pouco tempo depois, segundo dados disponíveis, começaram a surgir sinais de que “as coisas não iam dar certo”, que o projecto de transição saído de Alvor estava condenado ao fracasso, devido, principalmente, à incapacidade das partes angolanas de ultrapassarem pacificamente os seus litígios.
Diz-se, por exemplo, que as reuniões deste governo rapidamente se transformaram em “palco permanente” de violência verbal ou mesmo física entre as partes, que traziam profundas desconfianças mútuas transportadas dos anos da luta pela independência.
A intolerância política acabou por prevalecer, contrastando com a aparente cordialidade inicial e o optimismo demonstrado durante e no termo das negociações de paz.
Por essa via, precipitou-se o regresso às hostilidades político-militares, numa altura em que Portugal, que ainda detinha e exercia o poder de autoridade colonial, se revelava impotente para reverter o quadro.
Com as suas atenções viradas para a gestão dos “estragos” provocados pela revolução interna despoletada no ano anterior, o Estado português estava sem recursos nem condições para fazer cumprir o Acordo de Alvor, constatam alguns observadores.
Sucessivos incumprimentos do acordo, agravados pelo boicote ou abandono dos órgãos de governação, pelos seus titulares, forçaram Portugal a suspender, finalmente, a vigência do Acordo, depois de uma nova tentativa de reconciliação fracassada, na cidade queniana de Nakuru.
A suspensão foi decretada a 25 de Agosto de 1975, a menos de dois meses da data prevista para a realização de eleições gerais, e quase dois meses depois do encontro de Nakuru em que as partes se comprometeram a tudo fazer para a volta da normalidade.
Estavam assim criadas as premissas de uma prolongada guerra civil no país, que só viria a terminar, em 2002.
De Alvor a Nakuru
Antes da assinatura do Acordo, os líderes dos três movimentos de libertação (FNLA, MPLA e UNITA) mantiveram dois encontros preliminares para discutir sobre a cessação das hostilidades, concertar posições e negociar a Independência com Portugal.
A primeira reunião realizou-se em Julho de 1974, em Bukavu, então Zaíre e actual República Democrática do Congo (RDC), e a segunda em Janeiro de 1975, na cidade portuária queniana de Mombasa.
As negociações com Portugal viriam a decorrer de 10 a 15 de Janeiro de 1975, tendo culminado com a assinatura do que ficou conhecido como Acordo de Alvor, um documento de 60 artigos em que a então potência colonial reconhece solenemente o direito do povo angolano à Independência.
O reconhecimento da FNLA, do MPLA e da UNITA como “os únicos e legítimos representantes do povo angolano” e a marcação de eleições gerais para Outubro e Independência para 11 de Novembro de 1975 juntam-se à formação do governo de transição como os grandes marcos do Acordo de Alvor.
Angola é declarada como “uma entidade una e indivisível”, com Cabinda como “parte integrante e inalienável” do seu território nacional sobre o qual é decretado um cessar-fogo geral, reservando-se o uso da força a casos devidamente autorizados “para impedir violência interna ou agressão externa”.
Mesmo assim, a tão esperada transição pacífica acabou por não acontecer, com os três movimentos de libertação novamente desavindos e o país a braços com uma onda de violência que ameaça anular o Acordo de Alvor.
Na tentativa de corrigir a situação, organizou-se em território queniano, de 16 a 21 de Junho de 1975, um encontro que ficou conhecido por “Cimeira de Nakuru”.
No final da reunião, as partes reconheceram a falta de confiança mútua por divergências político-ideológicas e a intolerância política entre as principais causas da deterioração da situação político-militar no país.
Por isso, comprometeram-se a criar um clima de tolerância política e unidade nacional, pôr fim à violência e às intimidações, libertar todos os presos, acelerar a formação do Exército nacional e desarmar a população civil, entre outras acções, para levar a bom porto os objectivos preconizados em Alvor.
Ruptura definitiva
À semelhança dos compromissos anteriores, muito rapidamente os entendimentos de Nakuru transformaram-se em letra morta, com fortes discórdias entre as lideranças dos três movimentos de libertação já sob os efeitos da Guerra Fria entre os blocos socialista e capitalista.
Estava declarada a ruptura definitiva. Seguiram-se então violentos confrontos que culminaram em três proclamações unilaterais da Independência, respectivamente, em Luanda, no Huambo e em Ambriz.
O MPLA proclamou a República Popular de Angola, com sede em Luanda, a UNITA a República Social Democrática de Angola, no Huambo, e a FNLA a República Democrática de Angola, em Ambriz, na província do Zaire.
Dias depois, os dois últimos celebram um pacto, em 23 de Novembro de 1975, e fundem-se num único governo de coligação para a República Popular Democrática de Angola.
Com sede no Huambo, tinha Holden Roberto e Jonas Savimbi como co-presidentes e José Ndele e Johnny Pinnock como primeiros-ministros.
Mas acabou por prevalecer a Independência proclamada, em Luanda, por António Agostinho Neto (MPLA), com a protecção da URSS e de Cuba, contra a vontade dos outros dois movimentos então apoiados pelo Ocidente.
Acredita-se, por isso, que, se escrupulosamente cumprido, o Acordo de Alvor tinha tudo para oferecer a Angola um rumo diferente, com um pouco de tudo menos a violenta guerra civil que a mutilou durante quase três décadas.
É caso para dizer que a referida transição, concebida como um mecanismo preparatório à proclamação da Independência Nacional, então agendada para 11 de Novembro de 1975, acabou por ter um percurso conturbado e contrário às expectativas dos angolanos e das autoridades coloniais portuguesas.
Por Frederico Issuzo